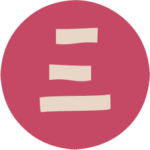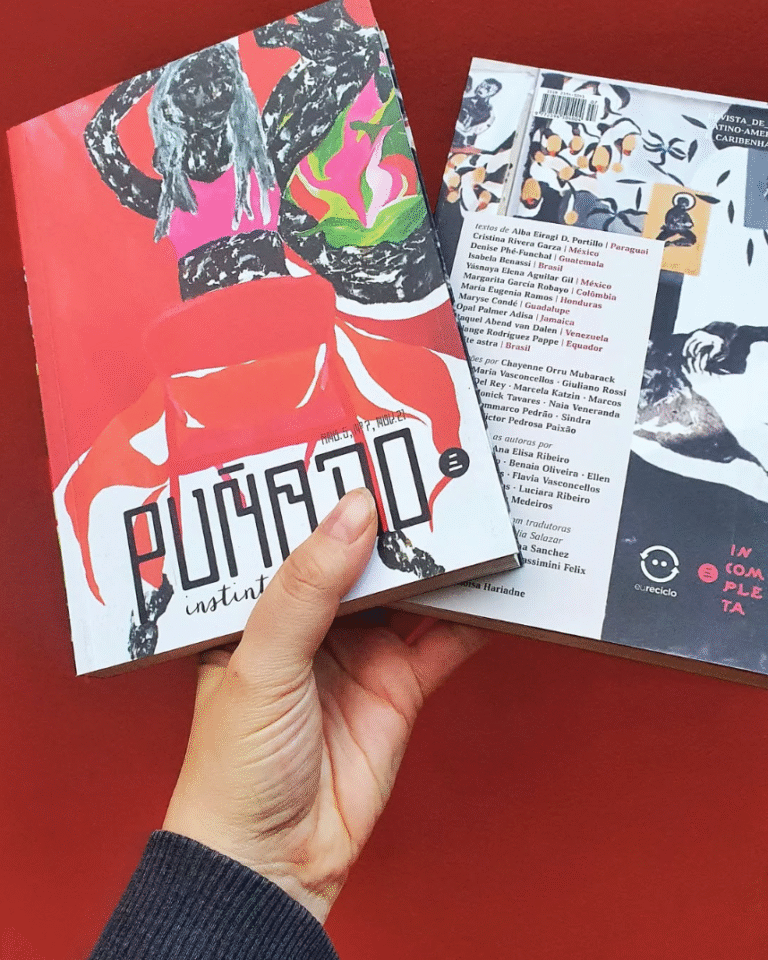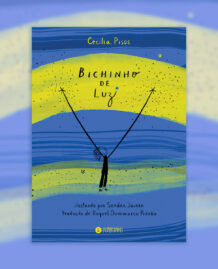[ Uma conversa entre as colaboradoras convidadas Estela Rosa e Natasha R. Silva, da iniciativa Mulheres que Escrevem, e a escritora uruguaio-brasileira Gabriela Aguerre. Esta entrevista foi realizada para a Puñado 6B, em 2019 ].
ESTELA: Seu relato [“Once upon in a blue moon”] tem muitas camadas, assim como as cidades que você visita – uma das mais marcantes é a de uma mulher viajando sozinha. Nessa história, a mulher viaja sozinha não apenas fisicamente, mas também na linguagem. Como você percebe essa distância da linguagem, de conhecer lugares onde a língua é uma barreira que traz ainda mais solidão e reforça o sentimento de ser estrangeiro? Uma mulher viajando sozinha se torna duplamente estrangeira?
Ser estrangeira é uma noção que me acompanha desde a infância. Perceber que a língua agrega e desagrega, também. Mas esse sentimento de não pertencer (estrangeirizar-me ou ser estrangeirizada) ocorre inclusive quando dominamos o idioma – mas não exatamente o código. Não compreender uma intenção, não perceber que algo era uma piada enquanto os demais riem, não entender o que há por trás da mensagem ou, do outro lado, não se fazer entender – tudo isso é também mediado pelo desencontro entre linguagens e pode gerar situações de fragilidade ou até de humilhação e impotência.
Quando viajo para um lugar distante, no entanto, quando me lanço para o desconhecido, procurando por algo, ou simplesmente observando o que é diferente – talvez à procura do que em mim se encaixe –, penso que a mulher e a estrangeira atuam em meu benefício: cuidam de mim, redobrando a minha atenção para o risco do perigo, procurando avidamente um outro que acolha, nem que seja um pedido de informação respondido, um sorriso de volta na fila do ingresso, uma conversa sobre o tempo no ponto de ônibus, mesmo que não se compreenda tudo. E às vezes acontece o milagre: a compreensão mútua, até do que não se diz. Mas me diz: precisa ir longe para procurar por esse encontro? Já sonhei muitas vezes que estou em um lugar onde não entendo absolutamente nada do que está escrito nos cartazes, nos sinais, nos cardápios, ou do que está sendo dito por dezenas de bocas ao redor. E, ao contrário do que já senti no passado, hoje essa falta de âncoras inteligíveis não me assusta tanto. Entender tudo é um desejo que abandonei faz algum tempo.
ESTELA: Me marcaram muito duas mudanças bruscas de narração: o momento em que o “eu” se torna um “você”, e o momento em que o nome Uri é repetido sequencialmente. Essas duas partes refletiriam um jogo com o outro? Tanto com a mulher, que passa a ser um “você”, por ser estrangeira, quanto com o homem, que fala a mesma língua que a da personagem, mas ainda assim é um outro? Como foi construir essa alteridade?
Sempre achei que os relatos de viagem precisam convidar o outro a viajar junto – mesmo que seja um relato em primeira pessoa. Sempre tive essa intenção ao escrever os meus, por mais particulares que fossem as experiências, por mais casuísmo que contivesse a viagem em si (ela só foi daquele jeito comigo, mas veja só o que poderia acontecer se você fosse, ou se você for). Portanto o uso do “você”, agora percebo, expressa esse convite.
Sobre o nome do Uri, foi um efeito proposital. Quis mostrar o meu guia argentino como um personagem que aparece em todas as fotos mentais dessa viagem. Uri aqui, Uri ali, Uri por toda parte. Foi assim mesmo que conheci Jerusalém, ao menos os cartões-postais; com Uri, onipresentemente.
Quanto ao viajar sozinha, tem uma coisa que percebi há muito pouco tempo: se vejo uma cena, uma paisagem, uma fachada ao virar a esquina, uma surpresa bonita, eu sempre digo em voz alta: “Que bonito isso!”. Como se ao falar e deixar soarem as palavras, algo se concretizasse. E, se tem alguém ao meu lado que escuta e que viu também, puxa, isso ficou potencialmente mais bonito, uma celebração mesmo. Compartilhar não é algo menor.
ESTELA: Percebo que sua escrita se divide em muitas formas de narração. Uma narração mais pessoal, em primeira pessoa; uma narração mais jornalística, contando sobre a paisagem e as pessoas ao redor; e uma narração mais lírica, que passeia entre variados ritmos e formas de construção. Como isso se dá na sua escrita? Existe alguma influência de outras áreas nesses seus relatos?
Ao escrever esse texto, tive uma intenção consciente de não empilhar dados sobre as coisas, os lugares, os monumentos. Pretendi mostrar em vez de rotular ou contar o que já se sabe – que, naturalmente, prescinde de mim para constituir-se como dado ou informação.
As influências que recebo são por oposição: a maior parte dos textos que contam como são os lugares que não conhecemos (e que, em seu conjunto, podem configurar o que se chama de literatura de viagem) repete descrições que já foram feitas por outros, replica dados que poderiam ser encontrados em fontes de pesquisa, como se o dado em si – em geral constituído de números, datas e um mínimo de contextualização histórica – legitimasse o texto de uma viagem. Aqui eu me soltei dessas amarras e contei o que achei que era preciso, do jeito que consegui.
NATASHA: Como é a experiência de escrever relatos de viagem ao viver muitos desses momentos na função de jornalista? Você considera necessário separar sua personalidade de jornalista da de escritora, separar realidade e ficção? A experiência como jornalista ajuda ou atrapalha na hora de transformar uma experiência real em conto?
Tentar hoje separar minhas personalidades é algo totalmente impossível. Pelo contrário: meu movimento tem sido o de juntá-las todas, pois são as que me trouxeram até aqui.
Acho incrível ter tido a chance de viajar bastante a trabalho – eu já viajava sozinha antes, até para ir e vir do país onde nasci, mas a trabalho foi um salto que me permitiu conhecer mais lugares e a um ritmo que jamais teria conseguido por conta e motivação próprias. Isso me treinou muito, sobretudo a descrever e a escolher cuidadosamente o que precisa ser contado.
Sem dúvida, eu uso o que aprendi na hora de escrever contos ou outras formas de texto que não aquelas para as quais fui treinada, digamos. Tudo ajuda.
NATASHA: A viagem retratada no texto aconteceu há muitos anos, mas só agora foi contada. Como é o seu processo de escrita? Existem histórias que exigem mais tempo do que outras? Quais estratégias criativas são necessárias para chegar ao resultado que você busca?
Poderia dizer: não sei, sim, isso mesmo, não sei, vou tentando.
Às vezes tenho a sensação de que todas as viagens que já fiz merecem ser recontadas. Como se o fato de tê-las feito e já escrito sobre elas não impedisse que uma revisita a esses lugares da memória trouxesse de volta novas formas de contar. Ir e vir no tempo tem sido uma de minhas práticas de escrita: escrever prestando atenção ao fluxo do que se lembra, inclusive daquilo que acaba de acontecer.
Também tenho prestado pouca atenção aos limites do real e do não-real, atribuindo à minha imaginação um novo lugar, que, por ofício, precisava apequenar (não que a imaginação não tenha sempre me servido como ferramenta, inclusive para narrar o real, mas esse é um outro assunto).
ESTELA ROSA é poeta e caipira, nascida em Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Foi finalista do Prêmio Rio de Literatura 2018 e esteve entre os três primeiros lugares na categoria poesia do Prêmio Off Flip de Literatura em 2017. É curadora na iniciativa Mulheres que Escrevem e atualmente vive na cidade do Rio de Janeiro. NATASHA R. SILVA é jornalista, escritora e aprendiz de programadora. Formada em Jornalismo pela UFRJ e mestre pela Escuela de Periodismo UAM-El País. Atualmente é freelancer com base em Lisboa e estudante de desenvolvimento para web. É uma das criadoras e editoras de conteúdo da Mulheres que Escrevem.os (Editora Penalux) // As biografias de Gabriela Aguerre e das demais autoras da Puñado podem ser lidas aqui.