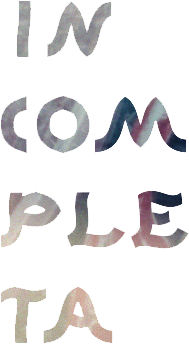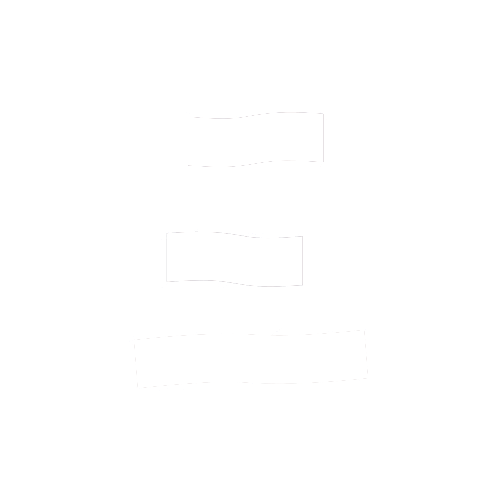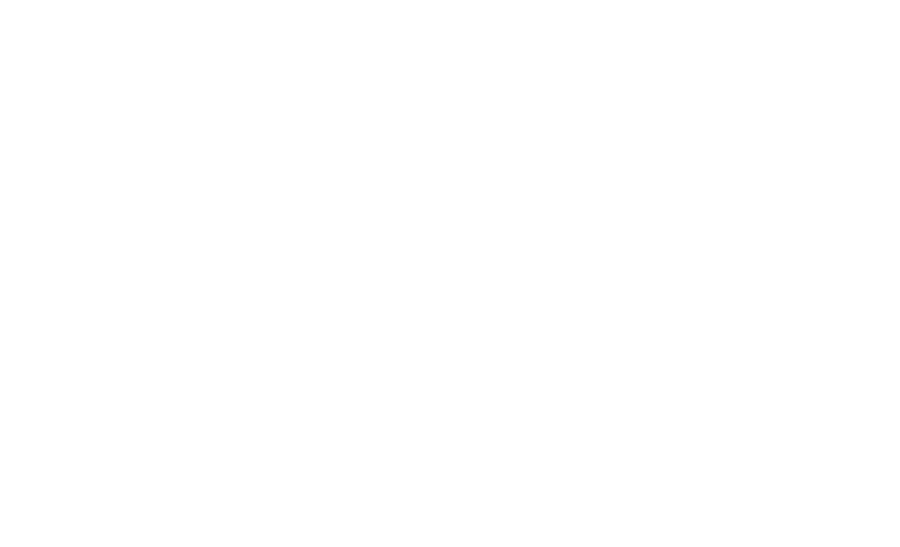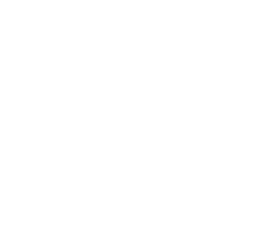PUÑADO: O texto é muito forte, tanto em sua interpretação mais literal como levando a figura da cachorra, por exemplo, para um campo simbólico. A forma como são tratados os animais e a infância consegue tensionar e comover ao mesmo tempo. Gostaria que você comentasse um pouco a maneira como decidiu lidar com o desconhecido e os traumas a partir das memórias de uma criança. E, ainda: o que acredita que a sua infância pode ter carregado de marcante para a sua literatura?
A infância é uma das fontes inesgotáveis de onde um escritor pode beber. Acredito que é nesse momento da existência que se desenvolvem o pensamento filosófico, o olhar sobre o mundo, a noção do tempo e, sobretudo, a sensibilidade psicótica – quero chamá-la assim –, que são determinantes numa escrita que pretende chegar até a medula dos seus temas. A infância nunca se apega ao realismo puro, pelo contrário, permite uma leitura multidimensional da realidade.
Muitas das histórias que servem de núcleo para os meus contos se originaram durante a minha infância. Até os doze anos, vivi rodeada por toda uma tribo, porque na casa dos meus avós viviam a família do meu pai (nós) e as famílias de dois dos meus tios. Era uma casa enorme onde, no entanto, o contato emocional era espremido. Essa proximidade gerava uma justaposição de mundos e sensibilidades que às vezes machucava. Enquanto os adultos passavam horas conversando sobre a situação política de merda que vivíamos, nós crianças decodificávamos essas opiniões por instinto: sentíamos medo, tecíamos fantasias tremendas, nas quais éramos inclusive eliminados massivamente por uma bomba atômica. É que, naquela época, coexistíamos com toda uma narrativa apocalíptica, que a minha avó instigava consumindo revistas consideradas “literatura menor” (e da qual tenho me alimentado muito na hora de imaginar os meus próprios apocalipses).
A demência da cachorra aconteceu de verdade. Comeu os seus filhotes e depois já não quis mais entrar na casa, mas também não foi embora de vez. Construiu essa espécie de heterotopia na entrada da casa.
Hoje, quando converso com meus pais sobre esse acontecimento, apenas se lembram vagamente – talvez porque eram anos de grande preocupação com outros assuntos, supostamente mais urgentes. Meu pai era militante de esquerda e minha família sempre ficava um pouco nervosa na hora em que ele voltava da universidade. Além disso, no quintal atrás da casa, tínhamos um barril de gasolina (o governo controlava a venda de gasolina durante meses, para limitar o fluxo de outras coisas); aquela “bomba” inflamável entrava em erupção no interior do metal toda vez que fazia um sol inclemente. Aquele som me enchia de pavor. Por isso, acho que a sensibilidade, que eu quero chamar de “psicótica’” com todas as suas consequências, é algo que esteve no coração da minha escrita desde sempre, e que eu quero continuar explorando.
SHEYLA: Nesse conto, você constrói uma espiral de tensão – algo que me parece ser um recurso recorrente na sua forma de narrar – em duas esferas: a familiar, com filho e filhotes que não puderam vingar, sem que para isso existisse alguma explicação satisfatória; e a política, com os soldados de armas enferrujadas que insistem em fazer revistas no ambiente doméstico. Como te interessa trabalhar o cruzamento dessas esferas? Qual a importância de tratar da dimensão política em um enredo familiar?
Tenho certeza de que essas esferas são inseparáveis e de que existe, certamente, uma intersecção afetiva muito mais próxima do que estamos dispostos a admitir. Me interessa a maneira como as famílias elaboram relatos sobre os danos colaterais da política, e a percepção que se gesta na psiquê de indivíduos aparentemente à margem do jogo político – pensemos nas crianças, nas meninas, nos adolescentes, nos idosos… como testemunhas desse enorme teatro que são o poder e seus meios. Sempre precisamos teatralizar o que não entendemos totalmente, e os atores que temos à mão são os membros da família.
Nesse cenário, os mega relatos históricos ou políticos se assentam e se transformam em ações, em mártires, em sacrifícios e custos humanos concretos, íntimos. Minha escrita é o espaço onde me permito fazer experiências ontológicas através dos personagens, para colocar em cena a encarnação da ideologia de família.
Uma única pessoa é capaz de se impor, com a sandice fanática de uma seita, e arrastar, em sua epifania narcisista, todo um clã. O modo de amar e construir um lar estão inevitavelmente arraigados na semente ideológica que estrutura uma pessoa, uma mãe, um avô. Alguns dos meus relatos tentam despir essas subjetividades, rasgar a roupa ideológica e ver, por fim, o que existe ali, na atordoante fragilidade e grandeza da nossa condição humana.
SHEYLA: Você vive nos Estados Unidos há muitos anos, cursou mestrado e doutorado na Universidade da Flórida, da qual hoje é professora. Como é, a partir desse lugar, voltar-se para as suas memórias, revisitar a infância e a adolescência vividas em uma pequena cidade da Bolívia? De que modo esse deslocamento físico impacta o conteúdo e a forma da sua escrita?
Sim, faz mais de uma década que vivo nesse país. Há alguns meses me mudei, por questões de trabalho, a Ithaca, uma cidade no norte do estado de Nova Iorque. Esse novo espaço cultural e geoafetivo implica para mim a repetição da dor de emigrar, ainda que dessa vez se trate de uma mudança menos radical do que a que assumi ao deixar meu país, há dez anos.
Minha experiência atual está permeada pela neve extrema, as colinas que realçam a solidão dos bairros e das casas e, sobretudo, a consciência de que a distância física em relação à Bolívia se ampliou, o que torna economicamente mais complicado viajar com a mesma frequência, mas também mais difícil me aproximar, de quando em quando, desse déjà vu que evoca a diáspora latina, muito mais presente nos estados do sul, como a Flórida.
Respondo essa entrevista num momento muito particular da minha vida. Pensei muito antes de mencioná-lo, mas acho que existe um antes e um depois desse acontecimento, e isso fará parte de mim para sempre. No dia 3 de janeiro deste ano, meu irmão caçula se suicidou (sou a mais velha de seis). Ainda não sei como, com a ajuda de alguns primos, pude conseguir passagens de avião para viajar à Bolívia imediatamente, numa época do ano na qual, tanto pela demanda como pelo clima, é muito complicado sair ou chegar a Nova Iorque. O que eu me lembro é de que, durante todas essas longas horas em direção ao encontro com a contundência da tragédia, repassava com a lucidez da morte os anos da infância, os episódios com meus irmãos, nossa forma de crescer e sobreviver. Essa viagem de avião foi uma viagem ao passado e também uma viagem ao presente absoluto, porque não existe entidade mais cheia de presença que o cadáver do seu irmão mais novo. Suponho que é isso o que, sem me dar conta, tenho feito em grande parte da minha escrita, mas só a partir dessa ferida posso entender melhor que a revisitação da infância faz parte de um esforço descomunal, teimoso, utópico, e um tanto inútil, de ir contra a morte. Então, talvez só nos reste ir a seu encontro.
SHEYLA MIRANDA é jornalista, tradutora e doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada na USP. // As biografias de Giovanna Rivero e das demais autoras da Puñado podem ser lidas aqui. // Tradução da entrevista e do conto “Cachorras e soldadinhos” por Laura Del Rey.