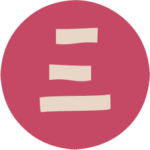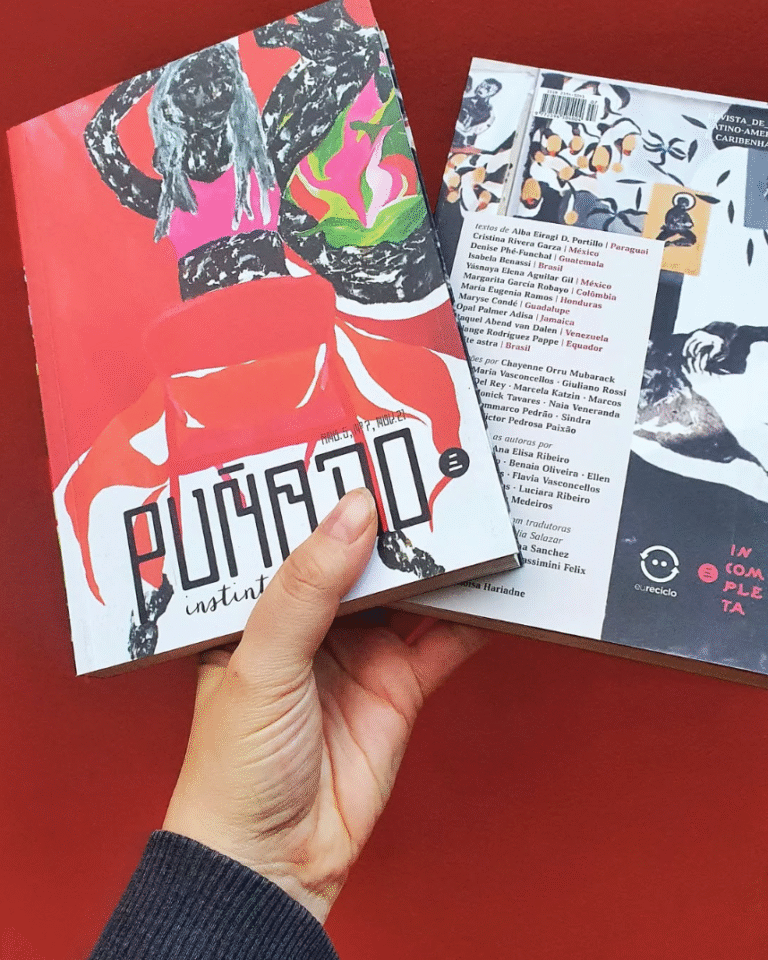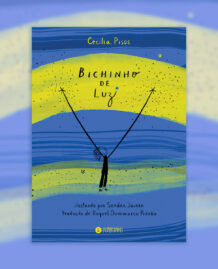[ Uma conversa entre a colaboradora convidada Sheyla Miranda e a escritora argentina Paula Porroni. Esta entrevista foi realizada para a Puñado 6B, em 2019 ].
SHEYLA: Em seu romance de estreia, Buena alumna, a narradora retoma uma fala do pai já falecido: “A memória é um músculo elástico (…) Elástico ou não, é preciso forçá-lo”. Essa frase me veio à cabeça ao ler o conto “Casa de botões”, essa trama de fios que enlaçam as dores das mulheres, uma espécie de dor hereditária. De que maneira você se interessa por trabalhar a memória em sua escrita?
Me interessa menos a questão da memória do que a das heranças e repetições, sobretudo as heranças afetivas dentro de uma família. Acredito que, entre todas as coisas que herdamos de nossos pais, herdamos também formas de sentir e de nos expressar afetivamente. Pensei nisso depois de ter lido Proleterka, da escritora suíça Fleur Jaeggy. Nesse romance (genial), a narradora adota a conduta expressiva do pai, sempre lacônico e distante, como se essa fosse uma maneira de se aproximar dele e de acabar de se tornar sua filha. Recentemente li Sistema nervioso, da chilena Lina Meruane, que também me fez pensar em outra forma do legado familiar: a da enfermidade hereditária, o congênito. Me interessa sobretudo a questão da repetição; o que se repete ou se reproduz entre pais/mães e filhos/filhas. Ou, de outro ponto de vista: aquilo que os filhos acabam imitando ou reproduzindo dos pais.
SHEYLA: Tanto em “Casa…” como em Buena alumna, o corpo tem uma presença muito forte: o sangue na ponta dos dedos, uma ameaça constante, o medo do fracasso marcado no físico – “De noite, às vezes me lembro dos anos que perdi. Todos esses anos me ressecando”, diz a protagonista sem nome e sem sobrenome do romance, obcecada por se exercitar. Você poderia comentar sobre como constrói a dimensão física de seus personagens?
Os momentos de autoagressão em Buena alumna surgiram quando a escrita do texto já estava mais ou menos avançada, na própria escrita, não foi algo sobre o que eu tivesse pensado antes. Com isso, senti que a protagonista e o romance terminavam de se armar. Paradoxalmente, talvez, as cenas de autoagressão são as mais livres em termos de escrita, onde o tom mais seco do resto do romance se transforma e a escrita se solta. Em “Casa…” entendo que o corpo está permanentemente sob ameaça; há uma violência implícita, iminente. E o [gesto de] se picar com a agulha tem um toque gótico ou de conto-de-fadas, né? Tipo A bela adormecida. Sempre gostei da crueldade e do sadismo desses relatos, ainda não modelados pela moral.
SHEYLA: Outro ponto de contato entre essas narrativas me parece ser o mistério que ronda a relação mãe-filha(s). Você vê isso como um tema insolúvel e, portanto, infinito? O que te move a escrever sobre isso?
Não sei. Acho que a família, digamos, convencional, com todas as suas misérias e pequenezas, tão incrivelmente de outra época, segue me parecendo fascinante. E a relação mãe-filha condensa tantas coisas, tantos nós: competições, heranças, expectativas, tanto fracassadas como cumpridas… Meus dois referentes no que tange à relação mãe e filha seguem sendo A pianista, de Elfriede Jelinek, e Sonata de outono, de Ingmar Bergman, filme que devo ter visto umas trinta vezes. Gosto da brutalidade dessas duas obras; do olhar nada adocicado que elas lançam sobre essa relação.
SHEYLA: Você também trabalha com tradução. O que você pensa sobre as implicações entre traduzir e escrever? Acha que o trabalho tão próximo do texto original, um exercício que convoca inclusive o corpo – formular modos de traduzir reverberações não apenas de sentido, mas também rítmicas, de uma língua à outra –, pode deixar marcas na escrita autoral?
Já quase não faço traduções, mas certamente acho que traduzir deixa marcas, e não sei se eu poderia traduzir e escrever ao mesmo tempo. Quando um livro é bom, depois de lê-lo, aquela voz “gruda” em mim. Mas sim, de vez em quando penso: “Gostaria de traduzir este livro”. Aconteceu isso com Ice, da escritora inglesa Anna Kavan, e com Opus morbo, do poeta chileno Pedro Montealegre, que tive muita vontade de traduzir para o inglês. Como eu moro na Inglaterra, leio bastante em inglês, e, às vezes, se gosto muito de um livro, enquanto leio vou murmurando uma espécie de tradução ao castelhano, suponho que para me aproximar da obra e pegar coisas dela.
SHEYLA MIRANDA é jornalista, tradutora, mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade de Barcelona e doutoranda na USP. // As biografias de Paula Porroni e das demais autoras da Puñado podem ser lidas aqui. // Tradução do espanhol por Laura Del Rey.