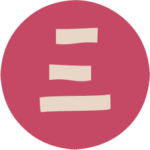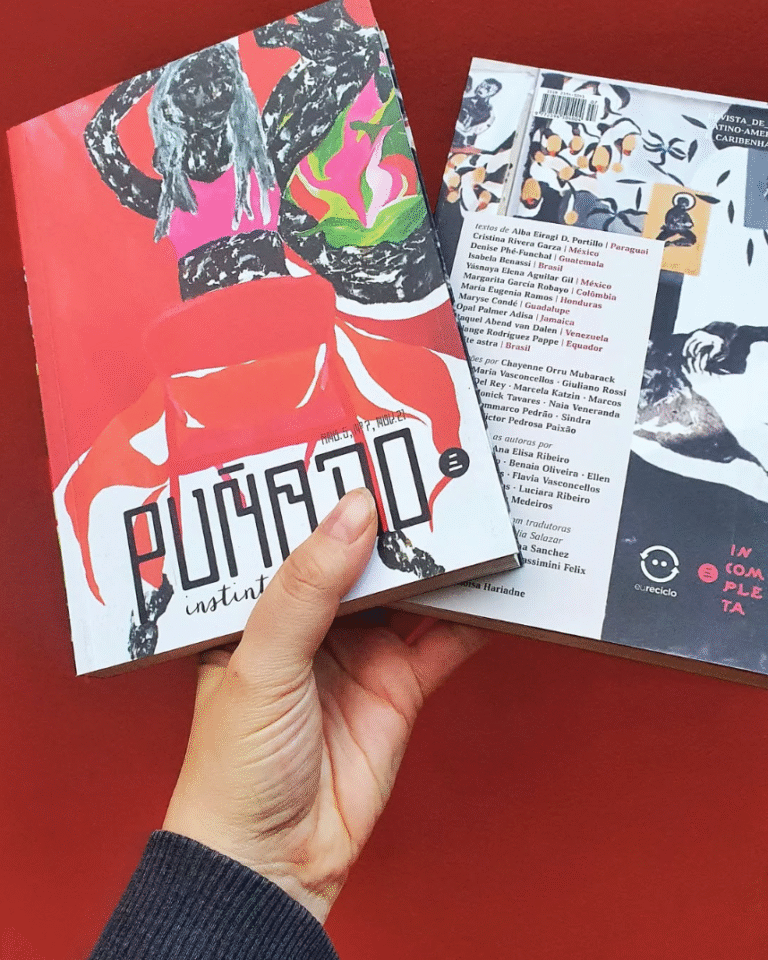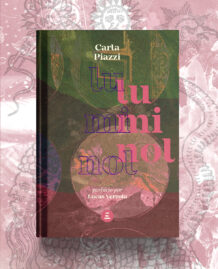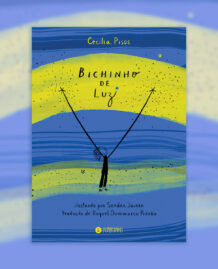[ Uma conversa entre a colaboradora convidada Juliana Leite e a escritora haitiana Évelyne Trouillot. Esta entrevista foi realizada para a Puñado 5, em 2018 ].
JULIANA: “Não sei, então, como o sonho chegou até mim.” Érico Veríssimo, escritor brasileiro, dizia que o ofício da escrita deveria acender, se não uma lâmpada, ao menos um toco de vela diante das atrocidades e injustiças. Há uma dimensão política no que ele diz, mas também uma dimensão de humildade: a fabulação e a imaginação como enfrentamentos humildes (mas potentes) da náusea e do horror. Para você, como escritora, qual é o poder da ficção diante dos sonhos que precisam urgentemente ser revelados?
Eu acho que nós podemos atribuir à literatura, à poesia, esse poder de luz. Não uma luz evidente e crua… uma luz por vezes sutil, mas sempre difusa. Uma claridade que toca as sombras, os meios-tons, e desvenda o chiaroscuro. Ao escrever, sou consciente da fragilidade das palavras, dos limites das minhas frases, mas também do poder e da força de um texto. É esse poder de vir-a-ser que me torna humilde e atenta diante dos horrores e das infelicidades infligidas aos outros – horrores e infelicidades que eu tento, com minhas palavras, mostrar em toda a sua feiura, despi-los de toda conivência para iluminá-los brutalmente. Brutal e luminosa. É assim que eu descreveria a escrita que tenta quebrar os tabus, esmagar os pré-julgamentos e dar lugar aos sonhos. Porque a literatura nos permite sonhar; não esses sonhos cor-de-rosa que querem enterrar sob os babados, mas os sonhos em cores indefinidas, sonhos que carregam tudo e nos limpam de todo fingimento para nos deixar novos em folha. Em um de meus últimos romances, Je m’appelle Fridhomme, dou a voz a um camponês haitiano que se vê envelhecer e se recusa a deixar o país, contra a insistência de seu filho que vive em Boston. Ele evoca a ocupação americana que lhe valeu esse nome mal escrito, evoca esse conceito de liberdade que os americanos diziam trazer e, à maneira de um camponês turrão e reservado, ajuizado mas teimoso, resiste ao invasor, a essa atração de outro lugar, a todas as imposições de um modo de vida que não seria o seu. À sua maneira, esse romance é um mergulho curto no universo rural, um mundo muito frequentemente deixado para trás e marginalizado. No fundo dos olhos desse septuagenário que passou a vida lutando cotidianamente para criar seus filhos, para não morrer de fome, tinha um sonho que ele subitamente quis revelar. O sonho de ser enxergado e levado em conta por seus filhos, o sonho de ser notado e compreendido. Ao longo das minhas viagens, frequentemente tenho a oportunidade de cruzar em aeroportos com idosos haitianos como Fridhomme, cujos olhos contam uma história que ninguém tem tempo para escutar. Seus corpos sobem no avião em direção a uma cidade norteamericana, mas seus olhos nublados miram outra direção. Um sonho dormente se esconde aí. Foi esse sonho que eu quis contar no meu romance.
JULIANA: “Aprendi a mendigar antes mesmo de falar.” Subjetividade e pão: duas matérias que, em suas singularidades, nos fazem existir. Aniquilar a subjetividade, muitas vezes pelo medo e pela ameaça da falta, é um plano político: anestesiar para dominar, oprimir, calar. Você poderia dividir conosco algum testemunho da sua trajetória, em que contar histórias se confirmou como gesto de sobrevivência?
Ao longo da história, os opressores frequentemente utilizaram o silêncio como arma para aniquilar as populações. Os silêncios da história permanecem, mesmo muito tempo depois, e perpetuam a ocultação de certos fatos ou personagens. Na história da revolução haitiana, as ações de grupos de escravizados e de mulheres foram minimizadas e mesmo ignoradas em favor dos atos de grandes homens. Os heróis da revolução. Evidentemente, os heróis têm seu lugar, mas tal visão da história não faz justiça a todos os setores da população e, sobretudo, encoraja a espera passiva por um messias que salve o coletivo. Além disso, ocultar o papel das mulheres que lutaram ao lado dos homens e contribuíram para a abolição da escravidão não oferece às jovens e às mulheres modelos a seguir. Os regimes opressores ou ditatoriais obrigaram as pessoas ao silêncio, se utilizando do medo e da repressão. Tanto em um caso como no outro, aquele que rompe o silêncio é portador de coragem, dignidade e liberdade. Na ditadura, falar levava à morte ou à tortura. Dar voz aos anônimos, aos invisíveis, àqueles a quem a sociedade marginaliza… esse é o grande desafio da literatura, da arte em geral. Ao meu ver, isso é um desafio, na medida em que é preciso ter humildade para experimentar se colocar na pele dos outros, é preciso se desembaraçar de suas próprias ideias pré-concebidas, olhar de outra maneira, esquecer seu modo de vida. Para fazer isso, o escritor também deve saber se apagar para dar lugar aos outros, e esse é um processo libertador.
A história oficial, ao longo dos séculos, ocultou grupos de indivíduos: as minorias, os negros, as mulheres, os que ousam desafiar o sistema estabelecido. A literatura pode dar voz a esses grupos; ela tem o poder de fazer a diferença, de contribuir para restabelecer um pouco o equilíbrio.
JULIANA: “A loucura às vezes assume um aspecto heroico. Minha mão, exausta de tanto mendigar, calmamente pegou uma pedra.” Como artista inserida no imenso presente, às vezes lhe parece que a linguagem não dará conta de abarcar o que vivemos? É possível que a literatura em si seja a pedra apanhada no chão?
Esse é o paradoxo da linguagem: ela parece incapaz de expressar tudo aquilo que contém, mas é só o que temos para falar sobre o mundo, para falar ao mundo. A loucura, muitas vezes, é uma forma de expressão cabal, uma tentativa desesperada de se expressar. Muitos escritores são fascinados pela loucura. Tenho diversos loucos nos meus textos, mais malucos do que loucos de fato. Dar vida a um louco em um texto e poder seguir o fluxo até o fim provoca uma espécie de júbilo, como o de uma criança trancada em uma sala repleta de doces.
Ao mesmo tempo, é uma aflição que se infiltra em seu espírito. Para se entregar à loucura é necessário roçar a aflição que frequentemente está em sua base, o desespero que conduz à demência. Eu acredito que o ser humano tem em si o desejo de se deixar levar, desejo que se expressa claramente durante o Carnaval e outras manifestações nas quais as barreiras e convenções sociais caem. A loucura é a forma suprema da bravata, uma farsa de mau gosto que ri da sociedade, das normas, das restrições de todo tipo. Preciso admitir que sinto sempre um pouco de prazer – um prazer sombrio – ao mergulhar no universo dos loucos, um universo que eu crio, mas que me permite trocar de pele, abraçar os fantasmas mais diversos. Um universo doloroso e intenso, e é essa intensidade que transmite as emoções e a subversão. Talvez seja esse o lado heroico da loucura, essa capacidade de contestar, de se posicionar diante da sociedade e de criar uma verdade outra. Quando a literatura dá voz à loucura, ela lhe permite ser vista, ela abre seus olhos para outras verdades, para palavras diferentes – chocantes, sem dúvida –, que nos fazem questionar, buscar outras maneiras, olhar adiante e descobrir outras faces da humanidade. Mesmo quando nos ferem ao fazê-lo, elas têm o mérito de nos retirar da neutralidade ou da indiferença, que são dois grandes males do mundo atualmente. Com muita frequência, nós somos indiferentes à miséria dos outros, às infelicidades dos outros – ou pior, nos mantemos neutros diante das injustiças. A loucura nos abala e nos faz sair desse torpor mental.
JULIANA: “Minha amendoeira e eu.” O diálogo entre nós duas, do Rio de Janeiro a Porto Príncipe, é possibilitado por essa rede de artistas mulheres proposta pela Puñado. Nessas páginas, você e eu nos encontramos sob a sombra de uma mesma amendoeira. Na sua rotina e nos seus processos, qual é a importância do diálogo com as linguagens e questões de outras artistas?
Acredito que é fundamental para os artistas ter a oportunidade de se comunicar com outros artistas de diferentes origens e linguagens. Fazer isso é como entrar em uma casa nova, onde reconhecemos alguns elementos básicos, mas identificamos diferenças suficientes para manter os olhos abertos e o espírito vivo. Encontrar escritores que moram em outros lugares, falam outros idiomas, é ao mesmo tempo um desafio e um bálsamo. Escrever é um processo solitário, quando você está encarando a folha ou a tela do computador. Mesmo se a sua mente estiver cheia de ideias e se outras pessoas enriquecerem a sua imaginação, você é o único que pode costurar tudo e criar a história como quer que ela seja. No entanto, quando escritores se encontram é como se o processo se tornasse coletivo, os sentimentos podem ser compartilhados. Sentimentos de frustração, realização, solidão… e uma espécie de solidariedade brota. Quando escritores vêm de formações diferentes, eles chegam rapidamente ao que é essencial, a despeito das diferenças. Mulheres escritoras, em especial, encontram desafios particulares, uma vez que o mundo ainda é um mundo dos homens, e elas precisam lutar mais arduamente para emergir. Ao mesmo tempo, as realidades variam e os contextos particulares geram problemas diferentes para as escritoras. Conversar com mulheres de diferentes origens e contextos traz novas perspectivas e lança novas luzes sobre as questões de discriminação e sexismo. Tive muitas oportunidades de encontrar e conversar com outros escritores, e sempre saí enriquecida desses encontros. Discutir como ideias se tornam vivas, como personagens são desenvolvidos, quão frustrado se pode ficar durante o processo criativo, como às vezes questões horríveis vêm à mente (“Eu sou boa?”, “Vale a pena?”, “Que diferença vou fazer?”) pode ser inspirador. Faz você perceber que os outros compartilham das mesmas experiências, e que todo ato criativo exige algum sofrimento, mas pode trazer grandes alegrias. Isso me faz mais forte e mais determinada a lutar para que novas vozes sejam ouvidas.
Idiomas diferentes remetem a realidades diferentes; as línguas têm uma forma especial de transmitir a essência de um lugar. É por isso que, ainda que eu não necessariamente entenda as palavras, gosto de ouvir poesia no idioma original. Ela canta, ruge, chora, comemora ou lamenta, e os ouvintes escutam a linguagem em si. As palavras se tornam secundárias por um momento. Às vezes, como escritora, acho muito apaziguador escutar apenas a música de uma língua.
JULIANA LEITE é escritora, mestre em Literatura Comparada pela UERJ. Seu romance de estreia, Entre as mãos, recebeu o Prêmio SESC de Literatura 2018. // As biografias de Évelyne Trouillot e das demais autoras da Puñado podem ser lidas aqui. // Tradução da entrevista por Laura Del Rey. // Tradução do conto “À sombra da amendoeira” por Raquel Dommarco Pedrão.