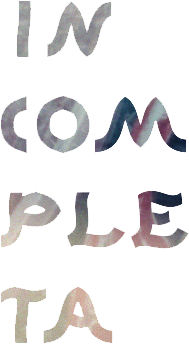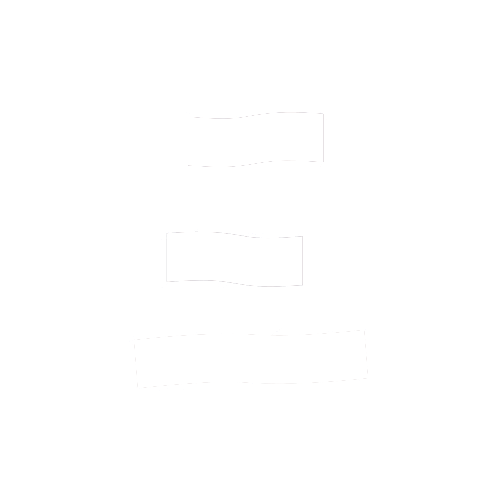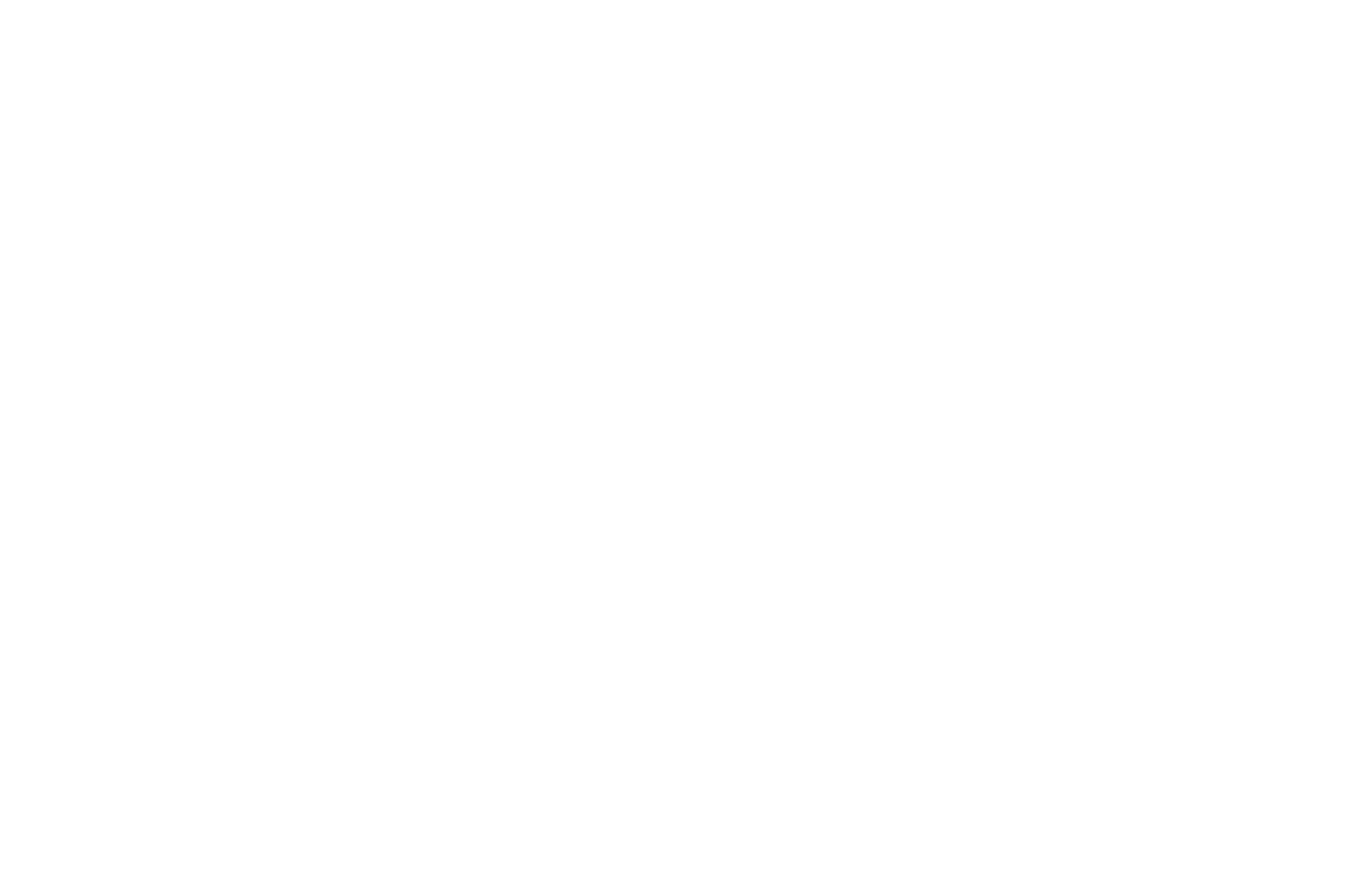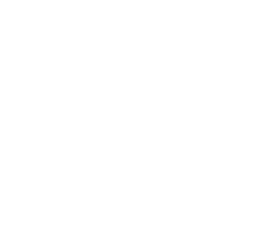FLAVIA: Você tem bastante experiência como escritora e professora. Como é estar ao mesmo tempo em ambos os lados da literatura, escrevendo e criticando? Como você atua nesses dois mundos?
Não percebo as atividades do escritor e do crítico literário como dois mundos separados. Ambos têm a mesma origem – como ervilhas em uma vagem. Quando você critica, você disseca, buscando encontrar o que faz uma narrativa ou um poema funcionar, buscando desenterrar a intenção autoral e como todos os elementos se encaixam.
Amo criticar tanto quanto amo escrever, pois acredito que a crítica colabora para me tornar uma escritora melhor. Quando observo o trabalho de alguém – e tento decifrar o que essa pessoa está fazendo, os significados do texto, suas diversas insinuações, simbolismos, metáforas –, esse processo favorece minha própria escrita. Aplico essas habilidades analíticas para cavoucar mais fundo e alargar meu panorama. Além disso, me torno mais consciente quando escrevo (bem, talvez em um nível subconsciente) quando reflito sobre a recepção que o trabalho terá não apenas por parte dos leitores, mas também pela crítica especializada – embora este não seja meu princípio norteador, visto que me distrairia e afetaria o desenvolvimento orgânico do texto.
A verdade é que não vejo cisão de mundos entre o escritor e o crítico; acho que “ervilhas em uma vagem” é a analogia perfeita: eles operam a partir do mesmo lugar e utilizam as mesmas habilidades. Eu escrevo e faço crítica literária, e a jornada entre esses dois terrenos é curta e familiar, como rolar de um lado da cama para o outro. Foi por causa do amor pelas duas coisas que comecei o jornal Interviewing the Caribbean.
FLAVIA: Uma das suas residências de escrita se deu no Instituto Sacatar, na Bahia. Como foi a experiência de ter passado esse tempo em um dos estados mais fascinantes do Brasil, no que diz respeito à diversidade cultural e à arte?
Eu amo o Brasil, é um dos poucos lugares onde moraria. Infelizmente não posso visitá-lo com frequência porque é distante e caro, mas Sacatar foi uma das residências mais incríveis que já vivi. Os responsáveis tratam seus residentes com um cuidado tremendo. O local é belo, e eu fiquei em um estúdio incrível sobre palafitas, que me permitia ver o mar. As pessoas que cuidaram de nós – preparando refeições, limpando nossos quartos, lavando nossas roupas – eram maravilhosas, doces.
O Brasil é muito rico. Os brasileiros são provavelmente um dos povos mais bonitos, fisicamente bonitos, fora do continente africano. São deslumbrantes. Acredito que têm uma percepção do próprio corpo que não vi em nenhum outro lugar da Diáspora; ou do mundo, aliás – e eu já viajei bastante. Eles se sentem confortáveis nos próprios corpos, possuem e ocupam os próprios corpos de um jeito que outros negros que foram escravizados não conseguem, mas que, de algum modo, os brasileiros conseguiram – ainda que os portugueses tenham sido escravizadores horríveis. Os brasileiros são fluidos, sensuais, sexuais.
Estar ali por três meses foi uma experiência extraordinária; poder vivenciar a cultura, especialmente os aspectos espirituais. Pude participar de dois importantes festivais da Bahia, Bonfim e Festa de Iemanjá, ambos formidáveis, ricos, complexos. A música agitou um fogo em mim! Eu fiz amor na praia, sob a lua. Vivenciei de tudo. Fui à Amazônia, às Cataratas do Iguaçu (na fronteira com a Argentina), a São Paulo, ao Rio de Janeiro e ao interior do Brasil. Aproveitei a oportunidade para conhecer o país. E, embora ainda não tenha escrito um romance brasileiro, eu sei que irei. Me senti amada, acolhida e segura. Foi lá que terminei meu livro de contos no qual vinha trabalhando há dez anos (Until judgment comes, 2007). Já havia labutado muito em cima desse livro e, durante a residência, tudo fez sentido: como as narrativas se conectariam, qual era a linha-guia. Também escrevi bastante poesia. Foi fecundo. Um período frutífero e gratificante cujo modelo eu gostaria de replicar na Jamaica, como um presente para artistas e escritores caribenhos, a fim de que possam se reunir e trabalhar.
FLAVIA: Como beletrista, você sabe que os grandes poetas refletem sobre a própria escrita, a dita “metapoesia”. A poesia antiga confia às Musas o trabalho de explicar o que ocorre na mente dos poetas enquanto compõem. “Meu corpo como transcrição” é uma forma moderna de falar sobre isso; uma reflexão impressionante sobre o ato de escrever enquanto se escreve. O texto tem uma abordagem visceral do assunto. Quanto disso é verdade para a Opal da vida real? Como você cria narrativas e personagens?
Agradeço a vocês por me trazerem de volta a esse texto que eu não lia há muitos anos. É realmente verdade para mim, tudo ali é verdade. Acredito que nada do que escrevo, mesmo boa parte sendo inventada, seja mentira. Eu me vejo como um veículo e às vezes indago: “Por que eu, essa história, essas pessoas… de onde vem isso?”.
Meu corpo é um reservatório, o mundo é meu reservatório. Então, quando me sento à beira de um rio, de uma praia, ou quando me deito no sofá, na minha varanda (como venho fazendo bastante nos últimos tempos por causa da covid)… e ouço o pica-pau, por exemplo… ele e eu estamos desenvolvendo um relacionamento. Recentemente, ele me apresentou seu pica-pauzinho: apareceu com a mesma cabeça vermelha, as penas eriçadas, e trouxe seu filhote para mim. Me acorda todas as manhãs. O que quero dizer é que sou inspirada por qualquer coisa, particularmente pela natureza. Contudo, tenho alguns relacionamentos e experiências imaginários, como contei nesse ensaio escolhido pela Puñado; as coisas vêm até mim e sou impelida a escrever sobre elas. Então me pergunto: “Mas de onde isso veio? Para onde vai?”. E é incrível, porque eu carrego essas coisas, geralmente intensas e exigentes, por muito tempo.
Há cerca de um mês, me aposentei da University of the West Indies. E agora que estou em casa, na Jamaica, espero conseguir escrever uma narrativa que, juro por Deus, me acompanha há quase 20 anos. Sinto que ela finalmente está pronta para ser escrita, pois se passa aqui; mas ela ganha cada vez mais camadas. Ao menos sei onde termina – em uma praia próxima do Palisadoes, perto do aeroporto. O ponto é que eu tenho convivido com um maldito estuprador [o mesmo que a autora menciona no ensaio] por mais de 20 anos. Ele é vil, mas trágico. Conheço sua história e ela me leva às lágrimas, mas também conheço a mulher que ele violentou, cuja vida ele arruinou, e sinto tanta raiva quanto ela, quero aniquilá-lo. Mas a narrativa não me deixa fazer isso. Imagine meu desalento e perturbação. Afinal de contas, sou uma ativista cultural especializada em gênero, sou uma feminista e luto pelos direitos das mulheres; e esse homem não me deixa. Ele estuprou essa mulher, a protagonista da narrativa, e a engravidou com sua criança. Ela procura por ele, o encontra, mas não consegue puxar o gatilho, mesmo com a arma colada à cabeça dele. Por enquanto é isso o que posso compartilhar.
Não estou certa de que essa longa explicação responde a sua pergunta sobre “Meu corpo como transcrição”, mas sim, my body is a transcript. E eu tento ser obediente; escuto, mesmo quando não quero, essas tramas trágicas e algumas longas explicações. Eu escuto, não tenho escolha. É assim que sou e que escrevo: primeiro na cabeça. Alguns escritores contam que vão imediatamente ao papel ou ao computador, mas eu não. A narrativa precisa amadurecer, ganhar vida nos meus pensamentos, e só quando já engatinha ou caminha é que eu a registro. As ideias que tenho convivem comigo por um bom tempo – no caso dos poemas, menos, porque são menores e, se não os registro depressa, eu os perco (não sua essência, mas versos ou frases que, na minha cabeça, estão cintilando). As narrativas, por outro lado, fazem morada: deitam-se na cama, abrem a geladeira e comem, cochilam e hibernam na minha cabeça.
FLAVIA: “O que percebi é que não são as personagens, as pessoas, que estão me chamando, mas o ato próprio da escrita; a necessidade de inventar algo, de bolar uma história, a necessidade insaciável de criar algo do nada para mergulhar no centro do meu corpo e alcançar e puxar esse algo, até que eu encontre uma forma de compartilhá-lo”. Eu gostaria de usar este excerto para saber se você recorda a primeira vez que a escrita a impeliu a responder esse chamado. Como você se tornou uma escritora?
Existe uma resposta longa a essa pergunta no livro Eros muse. O título do ensaio é “Laying in the tall grass eating cane: how I became a writer”. A epígrafe do livro, uma citação minha, diz: “Meu único crime é escrever, mas eu me inclino ao pecado quando esbanjo o quanto desfruto da escrita, e desejo chafurdar nela o quanto e sempre que me for possível, como se a escrita fosse chocolate derretido no qual posso me banhar”.
Quando garota, eu amava ficar deitada sobre a grama alta, olhar as nuvens e criar narrativas sobre os formatos que avistava – não apenas a vaca saltando a lua, mas todo tipo de coisa. Lembro-me de “escrever na cabeça”, e com consciência, desde muito nova, narrativas sobre a minha comunidade. Mas apenas um longo tempo depois foi que coloquei essas histórias no papel.
Quando tinha treze anos, um dos meus primeiros poemas foi publicado: “The sounds I like to hear”. Ele foi fruto de uma atividade escolar dada por uma professora, que amou o poema a ponto de publicá-lo no jornal da escola. Não tratarei amiúde sobre como me tornei escritora, mas você pode buscar a coleção Eros muse: poems and essays (2006), e lá estará uma resposta mais completa a essa questão.
FLAVIA: Enquanto pensamos que escrever é uma atividade cerebral, controlada e consciente, seu texto vai para uma direção diferente, como se ilustrasse que a escrita é uma necessidade do corpo. Você termina “Meu corpo como transcrição” dizendo: “Eu escrevo e a vertigem para. Eu escrevo e o código se torna decifrável, eu escrevo e meu corpo relaxa – a tensão se dissipa, o mundo parece claro e tudo fica leve novamente. Eu escrevo e meu corpo é integrado, unido, flutuando em plenitude na selva dos contos.” Quão terapêutica e libertadora é a escrita para você?
A escrita é um bálsamo. Escrevo para curar a mim e aos outros. Escrever acalma a minha mente. Às vezes gostaria de não pensar demais, tão profunda e frequentemente a ponto de não poder dormir, me divertir ou até mesmo baixar a guarda. Mas hoje aceito que eu sou assim, que essa é a minha jornada: escrever para pôr as coisas em movimento, dar-lhes existência. Trabalho com narrativas sobre coisas reais que impactam as vidas das pessoas.
Pensando na sua pergunta, escrever é uma limpeza tanto corporal quanto espiritual. Durante o processo, em certo sentido, você vai derramando tudo o que acolheu. Isso ficou bem evidente para mim enquanto produzia meu primeiro romance, It begins with tears (1997). Quando escrevi aquela cena atordoante do livro [a personagem Monica tem suas partes íntimas queimadas por outras mulheres], honestamente não sabia que aquele tipo de coisa acontecia – até eu ser convidada a ler o romance em voz alta nos lugares. Algumas pessoas da África e de algumas ilhas do Caribe me disseram: “Sabia que isso realmente acontece? Ouvi falar sobre um caso assim”. Aquilo me apavorou, petrificou. Considerei seriamente apagar a cena; aquela brutalidade de uma mulher com outra, porque a considerava imprestável ou sei lá o quê. Mas essa também é a realidade de como algumas de nós nos tratamos. Foi um fardo. Passei três semanas sem conseguir produzir após ter escrito esse trecho.
De forma similar, houve cenas de outro romance, Painting away regrets (2011), que não sei como “encontrei”; me chocaram quando escrevi. Eu sempre digo a meus alunos para não jogarem fora as coisas, mas na minha própria vida houve momentos em que pensei: “Talvez você não devesse publicar isso”. Você censura a si mesma porque quer evitar julgamentos com os quais se preocupa, sabe? Mas depois desbrava a tempestade e é catártico dizer: “Dane-se, vou publicar isso e as pessoas podem receber como quiserem”.
FLAVIA VASCONCELLOS AMARAL é paulistana, classicista, professora e imigrante em trânsito. Apaixonada por poesia e pelos gêneros breves, divide seu coração com os jogos olímpicos, futebol, gatos e café com as amigas. É idealizadora da agenda eletrônica Clássicas Dia a Dia, que divulga tudo o que acontece na área de estudos clássicos no Brasil em português; e integra a equipe do podcast Archai da Cátedra UNESCO: As origens do pensamento ocidental da UnB. // As biografias de Opal Palmer Adisa e das demais autoras da Puñado podem ser lidas aqui. // Entrevista realizada em agosto de 2021 e traduzida do inglês por Victor Pedrosa Paixão.