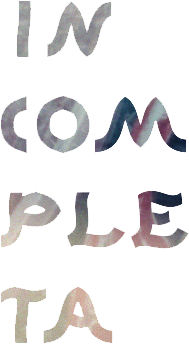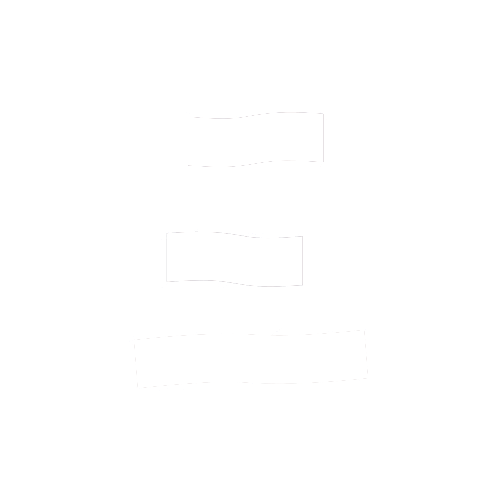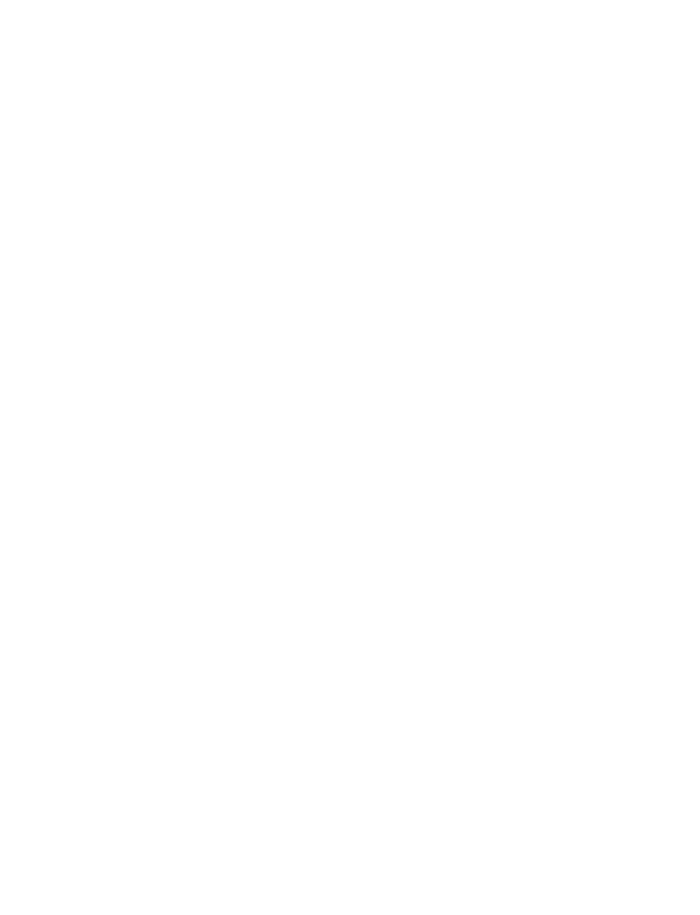Logo no início de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, conto que abre Ficções, há uma citação que certo personagem de nome Bioy Casares atribui a uma entrada enciclopédica perdida: “Os espelhos e a cópula são abomináveis porque multiplicam o número de homens”. O que não é expressamente dito, mas se revela como um oráculo durante a narrativa e perpassa toda a obra de Borges é que os livros – e as bibliotecas – elevam a aludida multiplicação à infinitésima potência. Luminol, portanto, seria também um bestiário, um romance que tenta lidar com abominações de todas as espécies. Não é de estranhar que o que acompanha a primeira grande narrativa do livro – o causo de Dona Gertrudes e Seu José da Carne-Seca – é o encontro da pequena Maya com o espelho velho de sua bisavó, tão pesado como se “tivesse roubado um pedaço de cada um que já havia se olhado ali”. E o espelho é um dos grandes motifs do romance, resgatado múltiplas vezes, emprestando sentido literal e alegórico à narrativa. Ele está lá no primeiro encontro cúmplice com Quindim, é uma sugestão de título para um dos capítulos do diário de Clara, é núcleo de uma citação de Alain de Lille conjurada três vezes, se reinventa reduzido a um caco na fazenda do exílio, surge em delírios e devaneios e reaparece no finzinho da última parte em mais uma das manipulações de Maya.
Como elemento simbólico, o espelhamento é ponto crucial para entender o jogo manipulativo da autora e das personagens, cristalizado na presença de inúmeros duplos e das relações entre cada elemento emparelhado. O principal duo é formado por Maya e Clara, não só quando pensamos na primeira enquanto reflexo natural e hereditário da última, mas também quando cogitamos interpretar a mãe enquanto reflexo artificial da filha, num exercício que não só remonta, mas recria e edita memórias. Deste prisma, há uma inversão na ordem natural da linhagem, com filha dando luz à mãe justamente quando a estirpe parecia ter fim – uma estirpe composta apenas por Marias, o nome da principal mãe da cultura ocidental, até que chega Maya, cuja etimologia pode remontar a “mãe”, em tupi –, forjando um uróboro. Contudo, como essa última mãe também atua no campo do delírio, do quimérico, nos recordemos do sonho da mãe do Buda e de outra possível origem do nome Maya: “ilusão”, em sânscrito. Aqui, como em Borges, cópula, em uma acepção estendida, está pareada com espelho, em sentido poético. Desse modo, as crias Ernesto e Maya também são chaves de leitura para a compreensão de quem os origina e do meio em que estão inseridos, são atravessados pelo signo da violência, direta e literal no caso do garoto, estrutural no caso da pequena Maya. Em paralelo, a ditadura e o autoritarismo estão sempre presentes, ainda que quando numa vigília que antecede os sonos profundos. Um tá-tá-tá-tá nunca será um bater em um tambor sem evocar o som de uma metralhadora. Pensemos agora nos livros, esses multiplicadores de abominações.
Desde a primeira parte, “Moscas volantes”, nos deparamos com histórias dentro de histórias, com uma sequência de narradores ao modo d’As mil e uma noites, em que o destino da primeira contadora é por ela própria adiado na expectativa de alterá-lo – Maya admitirá mais tarde que deve ser o tipo de autora que segue escrevendo versões de um único livro, e temos elementos para deduzir que isso reflete sua dificuldade em elaborar o passado. Já na parte central do diário, há o grande restauro da biblioteca, o que faz com que Clara tenha acesso a autores que mediam suas relações com os outros personagens e consigo mesma. Tal comportamento está igualmente presente em Maya, seja no ofício de interpretação, organização e quiçá reescrita dos relatos de sua mãe, seja na forma como opera o seu agir-artístico de escritora. Assim, o Decameron, O tambor de Günter Grass, bestiários medievais, hagiografias e a descoberta de Saint-Denys se cruzam não só como objetos de leitura e estudo, mas também como elementos estruturantes da obra em progresso e da subjetividade das autoras. É à conclusão semelhante que Quindim chega quando reflete sobre sua própria relação – e por que não dizer, sobre a das outras personagens – com a leitura e a escrita, já na terceira parte do romance:
À medida que lia e circulava pelo seu mundo, buscando me apropriar daqueles textos pra decifrar algo de sua vida, sentia que sua escrita fazia o mesmo movimento: se apropriava de mim e me ditava suas próprias regras de tempo, espaço e verdade.
Por ocupar as páginas centrais do volume, o diário acaba sendo a principal ponte para acessar o percurso de Clara pela estrada do exílio: o reconhecimento da área externa da fazenda, o mergulho no interior da casa/biblioteca e o enclausuramento no próprio inconsciente em busca do mundo onírico. Mas se é de Clara a intimidade que mais acompanhamos, devemos sempre nos questionar: “Que Clara é essa?”. A mãe que sofre um acidente de carro quando regressava para reencontrar a filha, a militante que “eles mataram”, a mulher obcecada pelo fundo do rio, talvez a ponto de se jogar? Tudo isso se relaciona com a principal pergunta do livro: é possível confiar em Maya? A mesma Maya que, não por acaso, referencia Humbert Humbert, um dos mais clássicos narradores não-confiáveis da literatura. O livro acerta em não trazer respostas, contudo entregar pistas para que o leitor seja uma espécie de Teseu seguindo o fio de Ariadne pelo romance-labirinto. Talvez seja necessário, todavia, borrifar um pouco de luminol pela casa de Astérion e acender a luz negra para acessar tudo o que as divertidas personagens pretenderam ocultar com uma faxina nem sempre bem-resolvida. Sorte a nossa. Em meio a tantas referências literárias, históricas e filosóficas, é bom lembrar que ganhamos todos quando a autora é também boa leitora – de livros e pessoas –, caso de Carla Piazzi, nesta ótima estreia como romancista.